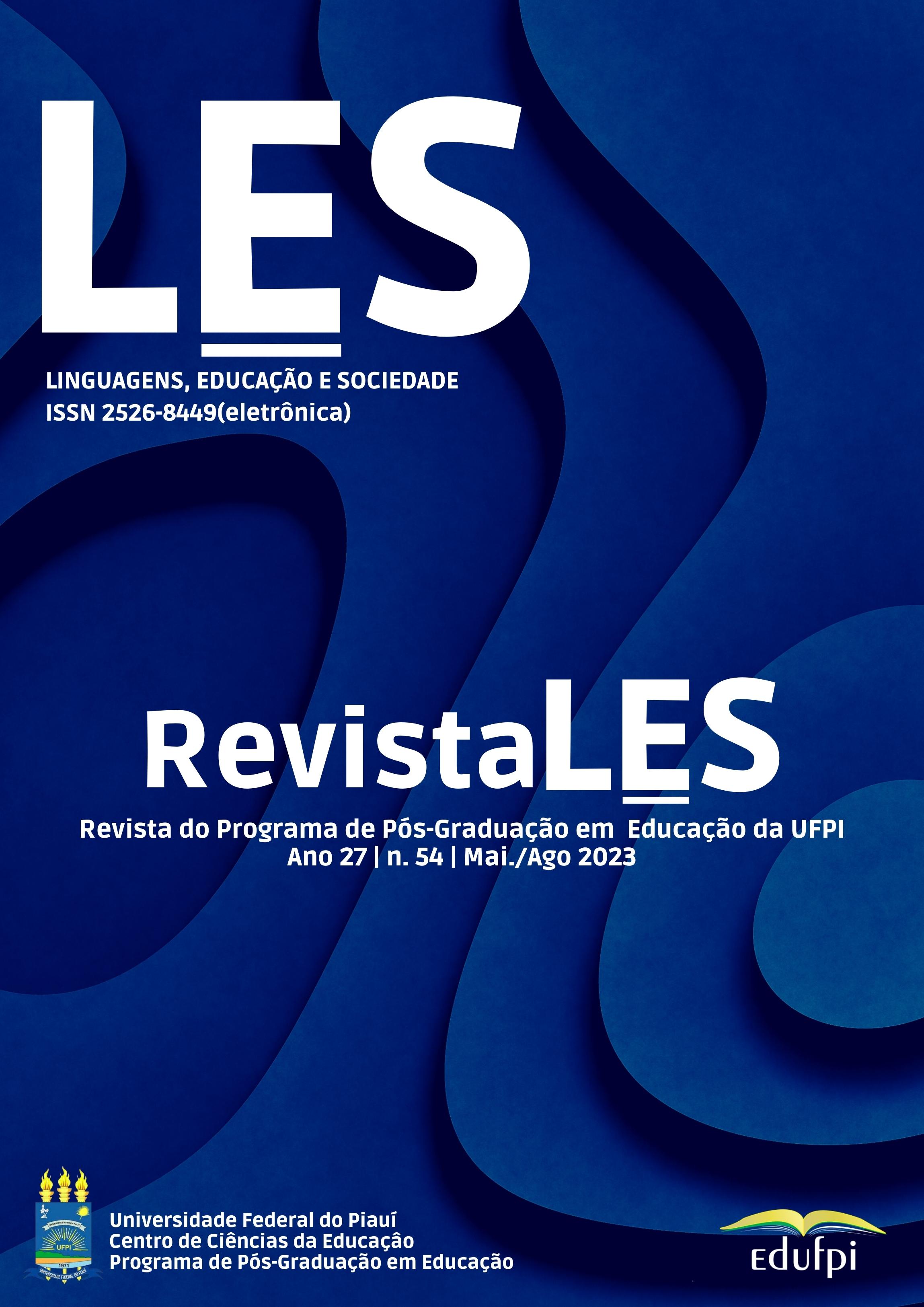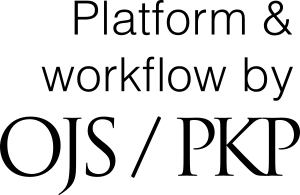El trabajo educativo con proyectos en la educación rural
DOI:
https://doi.org/10.26694/rles.v27i54.4127Palabras clave:
Educación Campesina, Pedagogia de la Alternancia, Pedagogia Histórico-Crítica, Secuencia dialéctica, La teoria críticaResumen
A partir de la lucha de los movimientos sociales rurales, se idearon leyes y políticas públicas dirigidas a las poblaciones campesinas, como la Educación Rural, asegurando a estos sujetos sus especificidades y necesidades. Estas iniciativas en Brasil datan de hace menos de tres décadas. Es necesario un proceso de (re)afirmación de estas políticas y la valoración permanente del campo, siendo la educación una condición humana fundamental en este proceso. No cualquier tipo de educación, sino aquella pensada por/para/con los propios campesinos, con sesgo crítico. El objetivo de este artículo es discutir el trabajo educativo con proyectos de Educación Rural, a partir de los estudios producidos sobre la Educación Rural, sus fundamentos jurídicos, la Pedagogía Histórico-Crítica y la Pedagogía de la Alternancia. Específicamente, se presenta una propuesta pedagógica de trabajo educativo con proyectos para la Educación Rural. El marco teórico se basó en estudios de Caldart (2019), Saviani (1983; 2016) y Vasconcellos (2014a y 2014b), entre otros. Esta propuesta alcanzó su intencionalidad de relación teórico-práctica con la propuesta pedagógica del trabajo educativo con proyectos de Educación Rural, centrándose en los aspectos primordiales de los modos de ser y vivir en/del campo. Resultó ser una oportunidad útil para generar una propuesta a ser aplicada en las escuelas rurales, involucrando a docentes, estudiantes, familias y comunidad, para fortalecer el campo como espacio de vida y trabajo de los sujetos sociales. Se espera ampliar los espacios de discusión, renovación de ideas y materialización de los principios, conceptos y prácticas de la Educación Rural, sobre todo, la valorización de la identidad campesina.
Descargas
Citas
BEGNAMI, João Batista. Pedagogia da Alternância em Movimento. In: MOLINA, Mônica C; MARTINS, Maria de Fátima A (Orgs.). Formação de Professores: reflexões sobre as experiências em Educação do Campo no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
BRASIL. MEC - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 1996, Seção 1, p. 27.833.
BRASIL. MEC – Resolução Nº 1, de 3 de abril de 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 2002.
BRASIL. Decreto nº 7.352, de 04 de novembro de 2010. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2012-pdf/10199-8-decreto-7352-de4-de-novembro-de-2010/file
BRASIL. Lei nº 12.960, de 27 de março de 2014. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para fazer constar a exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas. 2014. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-12960-27-marco-2014-778312-publicacaooriginal-143651-pl.html
CALDART, R. S. Sobre Educação do Campo. In: SANTOS, C. A. (Org.). Educação do Campo: campo– políticas públicas – educação. Brasília: NEAD, 2008. p. 67-86. Coleção Por Uma Educação do Campo, v. 7.
CALDART, Roseli S. Concepção de Educação do Campo: um guia de estudo. In: MOLINA, Mônica C; MARTINS, Maria de Fátima A (Orgs.). Formação de Professores: reflexões sobre as experiências em Educação do Campo no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
HORN, Maria das Graças S; BARBOSA, Maria Carmem S. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008.
JESUS, José Novais de. A pedagogia da alternância e o debate da educação no/do
campo no estado de Goiás. 2010. Disponível
em: https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1334. Acesso em: 05 jun. 2022.
PRADO JR, Caio; FERNANDES, Florestan. Clássicos sobre a Revolução Brasileira. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2003.
KILPATRICK, Willian H. Educação para uma civilização em mudança. 12ed. São Paulo: Melhoramentos, 1974.
LACERDA, Celso L. de; SANTOS, Clarice A. dos. Introdução. In: SANTOS, Clarice A. dos; Molina, Mônica C. JESUS, Sonia Meire dos S. A de. (Orgs). Memória e História do PRONERA: contribuições do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária para a Educação do Campo no Brasil. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2011. Disponível em: http://educacaodocampopb.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Mem%C3%B3ria-E-Hist%C3%B3ria-Do-Pronera-Rev-1.pdf
MOLINA, Mônica C; JESUS, Sonia Meire dos S. A de. Contribuições do PRONERA à Educação do Campo no Brasil: reflexões a partir da tríade: campo-política pública-educação. In: SANTOS, Clarice A. dos; Molina, Mônica C. JESUS, Sonia Meire dos S. A de. (Orgs). Memória e História do PRONERA: contribuições do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária para a Educação do Campo no Brasil. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2011. Disponível em: http://educacaodocampopb.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Mem%C3%B3ria-E-Hist%C3%B3ria-Do-Pronera-Rev-1.pdf
ROSA, Daniela Souza da; CAETANO, Maria Raquel. Da educação rural à educação do
campo: uma trajetória...seus desafios e suas perspectivas. 2008. Disponível
em: http://www.portaltrilhas.org.br/download/biblioteca/da-educacao-rural-a-educacao-docampo.pdf.
SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1983.
SAVIANI, Dermeval. A Pedagogia Histórico-Crítica na Educação do Campo. In: BASSO, Jaqueline Daniela; SANTOS NETO, José Leite dos; BEZERRA, Maria Cristina dos Santos (Orgs.). Pedagogia histórico-crítica e educação no campo: história, desafios e perspectivas atuais. São Carlos: Pedro & João Editores e Navegando, 2016.
SENA, Marina T. B. da C; FINATTI, Jussara R. O Processo de Ensino-Aprendizagem a partir de Projetos de Trabalho em uma Abordagem Crítica. X Congresso Nacional de Educação, Curitiba: PUC, 2011.
SILVA, José Pedro Guimarães da; LIMA, Maria Socorro Lucena; COSTA, Elisangela André da Silva. Os três momentos pedagógicos da ação didática como caminho para a práxis pedagógica. Linguagens, Educação, Sociedade. Teresina, Ano 25, n. 44, jan./abr. 2020, p. 90-109. Disponível em: https://periodicos.ufpi.br/index.php/lingedusoc/article/view/1065/913. Acesso em: 05 jun. 2022.
TEIXEIRA, Edival Sebastião; BERNARTT, Maria de Lourdes; TRINDADE, Glademir Alves. Estudos sobre Pedagogia da Alternância no Brasil: revisão de literatura e perspectivas para a pesquisa. Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022008000200002.
TRAVESSINI, Desideri Marx. Educação do Campo ou Educação Rural? Os conceitos e a prática a partir de São Miguel do Iguaçu, PR. 2015. Disponível em: https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/383.
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político pedagógico – elementos metodológicos para elaboração e realização. 24ed. São Paulo: Libertad, 2014a. (Cadernos Pedagógicos do Libertad; V.1)
VASCONCELLOS, Celso dos S. Construção do conhecimento em sala de aula. 19ed. São Paulo: Libertad, 2014b. (Cadernos Pedagógicos do Libertad; V.2)